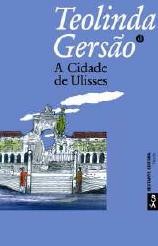MIL: Movimento Internacional Lusófono | Nova Águia
Sede Editorial: Zéfiro - Edições e Actividades Culturais, Apartado 21 (2711-953 Sintra).
Sede Institucional: MIL - Movimento Internacional Lusófono, Palácio da Independência, Largo de São Domingos, nº 11 (1150-320 Lisboa).
Desde 2008, "a única revista portuguesa de qualidade que, sem se envergonhar nem pedir desculpa, continua a reflectir sobre o pensamento português".
Colecção Nova Águia: https://www.zefiro.pt/category/zefiro-nova-aguia
Outras obras promovidas pelo MIL: https://millivros.webnode.com/
"Trata-se, actualmente, de poder começar a fabricar uma comunidade dos países de língua portuguesa"

Nenhuma direita se salvará se não for de esquerda no social e no económico; o mesmo para a esquerda, se não for de direita no histórico e no metafísico (in Caderno Três, inédito)
A direita me considera como da esquerda; esta como sendo eu inclinado à direita; o centro me tem por inexistente. Devo estar certo (in Cortina 1, inédito)
Agostinho da Silvasegunda-feira, 2 de fevereiro de 2015
1º Encontro de Literatura Infanto-Juvenil da Lusofonia na Fundação "O Século"
quinta-feira, 7 de agosto de 2014
Ruy Coelho (1889-1986), um compositor português injustamente esquecido?
domingo, 10 de novembro de 2013
Prémio de Literatura da Fundação António Quadros 2013 a atribuir a Teolinda Gersão (16/11/2013) - recensão do romance "A Cidade de Ulisses"
domingo, 1 de setembro de 2013
A função social dos intelectuais na atualidade – abordando a tese ideológica de Vasco Graça Moura

 “(…) Os intelectuais, no sentido
elitista que a expressão teve em França e no século XX, estão em vias de extinção.
(…) Há uma interacção entre a ideologia política, a tecnocracia, a formação
crítica e o imediatismo impaciente que distorce a função intelectual. (…) A
crise das elites não é um fenómeno português. Generalizou-se pela excessiva
especialização das formações universitárias, pela empresarialização obsessiva
da instituição universitária, pelo postergamento das humanidades e da cultura
geral no sentido nobre do termo. Deixou de haver elites no sentido humanístico
e cívico para haver especialistas que só vêm o seu próprio quintal e nem
sempre…Portugal, se não tiver cuidado, para lá caminha. (…)”
“(…) Os intelectuais, no sentido
elitista que a expressão teve em França e no século XX, estão em vias de extinção.
(…) Há uma interacção entre a ideologia política, a tecnocracia, a formação
crítica e o imediatismo impaciente que distorce a função intelectual. (…) A
crise das elites não é um fenómeno português. Generalizou-se pela excessiva
especialização das formações universitárias, pela empresarialização obsessiva
da instituição universitária, pelo postergamento das humanidades e da cultura
geral no sentido nobre do termo. Deixou de haver elites no sentido humanístico
e cívico para haver especialistas que só vêm o seu próprio quintal e nem
sempre…Portugal, se não tiver cuidado, para lá caminha. (…)”quarta-feira, 26 de junho de 2013
A Águia (revista 1910-1932) como fonte de inspiração da Nova Águia (revista 2008-2013) – nº 11, 1º semestre de 2013
<!--[endif]-->
terça-feira, 5 de fevereiro de 2013
A Doutrina Social da Igreja no contexto dos paradoxos da Globalização atual
sábado, 10 de março de 2012
Aquilino Ribeiro (1885-1963), cultura literária e liberdade de pensamento

Aquilino Ribeiro, nascido em 1885 no concelho de Sernancelhe, foi um dos maiores escritores portugueses do século XX. Foi um escritor que se revelou plurifacetado nos vários domínios da escrita a que se dedicou (à ficção, ao ensaio, ao memorialismo, à biografia, etc). Como expoentes máximos da sua obra literária contam-se os romances: “O Malhadinhas” (1949), “A Casa Grande de Romarigães”(1957) e “Quando os Lobos Uivam”(1958). Casou em 1929 com Jerónima Dantas Machado, filha de Bernardino Machado.
Quando veio para Lisboa ingressou no jornalismo, aderiu à causa Republicana e ingressou na Maçonaria pela mão de Luz Soriano na Loja Montanha do Grande Oriente Lusitano. Colaborou com os revolucionários da Carbonária, guardando no seu quarto dinamite que acabou, por involuntariamente, causar uma explosão que o levará ao encarceramento. O seu ativismo político e cívico a favor da liberdade dos cidadãos irá colocá-lo na luta contra o regime monárquico, a ditadura militar e o regime do Estado Novo.
A sua percepção da liberdade irá fazer-lhe escrever alguns livros de crítica ao “statu quo” político, em particular a seguir à 2ª Guerra Mundial com a obra “Príncipes de Portugal – suas grandezas e misérias” (1952) e “Quando os Lobos Uivam”(1958). A reacção do regime Salazarista não se faria esperar e os Serviços de Censura desaconselham ao Editor uma reedição do primeiro livro, mencionado, por aviltar a memória heróica de algumas das grandes figuras da História de Portugal, contrariando o registo nacionalista típico da historiografia ligada ao regime. Em 1958, em pleno turbilhão em volta da candidatura do general “sem medo” (Humberto Delgado), a publicação do segundo livro, mencionado, vai levá-lo a ser acusado de difamação das autoridades públicas pelo regime que lhe moveu um processo criminal apontando-lhe o vício de descredibilizar as instituições do Estado Salazarista.
Na verdade, o livro de Aquilino Ribeiro “Príncipes de Portugal” desmistifica a visão nacionalista dos heróis da Pátria e como o nome indica satiriza alguns dos vícios das figuras de proa da História de Portugal. É um livro que recomendo e de fácil leitura. Outro grande romance deste autor é “A Casa Grande de Romarigães” que descreve com uma rica linguagem a história de várias gerações, nessa mansão Minhota, por onde o próprio autor passou como marido da filha de Bernardino Machado. Sobressai nesse seu livro um tom anticlerical e uma visão antinobiliárquica de crítica do Antigo Regime.
Em 1960 Francisco Vieira de Almeida irá propô-lo para o Prémio Nobel da Literatura na Academia Sueca, proposta que foi subscrita por variadíssimos nomes das letras portuguesas ligados à cultura democrática como José Cardoso Pires, David Mourão-Ferreira, Urbano Tavares Rodrigues, José Gomes Ferreira, Vitorino Nemésio, Mário Soares, Alves Redol, Virgílio Ferreira, etc.
O argumento fulcral que julgo esteve subjacente a esta proposta foi a crítica aberta ao regime Salazarista no afã de uma defesa incondicional das liberdades cívicas abafadas pelas instituições repressivas do Estado Novo e, por outro lado, a sua ímpar originalidade literária patente num estilo muito pessoal que soube cultivar à margem das tendências estéticas vigentes num respeito salutar pelos valores tradicionais da Literatura Portuguesa. O valor supremo da sua escrita reside numa riqueza lexicológica infindável, nos castiços regionalismos beirãos que nos remetem para as suas origens e no tom mordaz que imprime a alguns dos seus diálogos e a algumas das suas notáveis descrições.
Nuno Sotto Mayor Ferrão
Publicado originalmente no blogue Crónicas do Professor Ferrão
domingo, 12 de fevereiro de 2012
Movimento Internacional Lusófono - breves considerações

O Movimento Internacional Lusófono é um movimento cultural e cívico com mais de 10.000 aderentes de todo o espaço linguístico português. Constituiu-se juridicamente como organização oficial no dia 15 de Outubro de 2010, embora já existisse anteriormente como um espaço de liberdade das sociedades civis da CPLP. O Movimento é composto estatutariamente por uma Direção, uma Assembleia Geral, um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo que reúne quase cem membros. Existem quase duas dezenas de membros honorários que sendo figuras prestigiadas subscrevem os objetivos do MIL.
O MIL tem promovido sessões culturais, como as que vão acontecer durante este ano na Biblioteca Municipal de Sesimbra, e tem subscrito diversas moções, promovido inúmeros debates públicos, recolhido livros e distinguido Personalidades Lusófonas com um Prémio simbólico no intuito de estreitar as relações afetivas, sociais, culturais, institucionais, políticas e económicas entre os países falantes da Língua Portuguesa. Este ano o MIL vai distinguir o Professor Doutor Adriano Moreira com o Prémio Personalidade Lusófona do ano de 2011 numa cerimónia pública que se realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa.
Os fundamentos desta agremiação estão nas raízes históricas lusófonas que temos procurado investigar em vários autores[1], no pensamento generoso e visionário de Agostinho da Silva que sustentava no século XX a necessidade de se constituir uma União Lusófona. Estes alicerces culturais vieram a tornar possível a CPLP em 1996, que no ano passado comemorou os seus 15 anos de vida. O Presidente do MIL, Renato Epifânio, escreveu um livro “A Via Lusófona – um Novo Horizonte para Portugal”[2] que nos apresenta com muita clareza e lucidez esta estratégia que a Pátria deve seguir, tendo feito sobre este livro uma breve recensão no meu blogue: “A VIA LUSÓFONA: UM NOVO HORIZONTE PARA PORTUGAL” - RECENSÃO CRÍTICA DO LIVRO DE RENATO EPIFÂNIO
A CPLP como instituição intergovernamental, o Prémio Camões como um reconhecimento literário a autores que têm enriquecido a Língua Portuguesa, a revista “Nova Águia” como uma publicação que tem abraçado o espírito lusófono nos seus conteúdos e nos locais em que se tem apresentado, a Associação Médica Internacional que tem valorizado a assistência humanitária aos países irmãos, a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira e a Ciber Rádio Internacional Lusófona têm constituído parceiros insubstituíveis para consolidarem os laços culturais e afetivos de povos que a História tem vindo a aprofundar. Não quero deixar de mencionar a Academia Galega de Língua Portuguesa que foi reconhecida como Observador Consultivo da CPLP, apesar da posição do atual Executivo português.
Contam-se como membros honorários do MIL figuras prestigiadas da Comunidade Lusófona como sejam: Fernando Nobre como seu presidente honorário e Abel de Lacerda Botelho, Adriano Moreira, Amadeu Carvalho Homem, António Braz Teixeira, António Carlos Carvalho, António Gentil Martins, Dalila Pereira da Costa, Elsa Rodrigues dos Santos, Fernando dos Santos Neves, João Ferreira, José Manuel Anes, Lauro Moreira, Manuel Ferreira Patrício, Pinharanda Gomes e Ximenes Belo como sócios honorários que muito prestigiam, pelos seus relevantes serviços públicos, esta nossa Agremiação.
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa constituída por oito países (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste) formou-se para estimular a cooperação a diversos níveis e a defesa da Língua e da Cultura Portuguesa que tem sido enriquecida com a criativa genialidade dos autores e dos povos do espaço lusófono que transcende a contingência formal dos Estados como nos ensinou o brilhante filólogo Luís Lindley Cintra.
O MIL conta hoje em dia com um site oficial, um blogue e canal de vídeos que recolhe o testemunho de personalidades e de debates públicos que tem promovido. A sede do MIL localiza-se em Lisboa, mas como membro do Movimento congratulo-me com abertura de um novo núcleo no Porto. Aguardo com grande curiosidade o livro “Convergência lusófona (2008-2012) – As posições do MIL: Movimento Internacional Lusófono”, coordenado por Renato Epifânio.
Nuno Sotto Mayor Ferrão
Publicado originalmente em Crónicas do Professor Ferrão
domingo, 22 de janeiro de 2012
O debate da descentralização regionalista em Moçambique no tempo da Ditadura Militar

Em Moçambique nos anos 20 é ventilada a tese da descentralização regionalista, isto é, a defesa da divisão do território em duas regiões administrativas, a norte centrada em Tete e a sul centrada em Lourenço Marques. Os principais pronentes desta solução eram proprietários e empresários da região de Tete e da cidade da Beira que consideravam a sua região mais produtiva do que a zona sul, mas em que as riquezas, ao invés, eram absorvidas pela administração sediada em Lourenço Marques.
Em plena crise económica Moçambicana, em 1925, o “Grémio dos Proprietários e Agricultores da Zambézia” defendiam a divisão administrativa desta colónia em duas regiões[1], com o objectivo de que a zona norte não se limitasse a transferir as suas riquezas provenientes da agricultura e da indústria para o ocioso sul. Pretendia este grupo que se criassem duas regiões administrativas distintas com orgãos próprios e prerrogativas específicas, de forma que esta descentralização regional representasse melhor os interesses económicos da Zambézia. No entanto, a tese oficial perfilhou a opção da unidade administrativa de Moçambique, porventura por tal escolha garantir uma maior protecção em relação ao risco do sul de Moçambique ser anexado pela União Sul-Africana como pretendia o general Jan Smuts.
Nas passagens seguintes, de uma notícia num periódico colonial, nota-se o cepticismo do jornalista em relação a esta sugestão administrativa heterodoxa:
“(...) Quanto à divisão da Província [ de Moçambique ] em duas, parece-nos que os argumentos invocados pelo Grémio dos Proprietários e Agricultores da Zambézia não tem consistência por aí além. Que o sul vive dos cambiais do Rand, não tendo uma produção agrícola ou industrial que lhe garanta a continuação do seu fastoso luxo de capital de colónia ? Mas nem mesmo que assim sucedesse, que não sucede, o norte teria o direito de defender a desagregação de Moçambique. Os distritos juntos, auxiliando-se mutuamente, como partes do mesmo todo, resistem incontestavelmente melhor a todos os embates, do que estando sujeitos a orientações diversas; com métodos administrativos diferentes. (...)”[2]
O reconhecido professor, da Escola Superior Colonial, José Gonçalo Santa-Rita pugnou também em 1930 pela divisão administrativa de Moçambique em duas regiões[3]. Numa análise preambular afirmou que as ineficácias administrativas coloniais tinham provocado algumas crises resultantes da descentralização implementada ser imperfeita, pois a seu ver a delegação/ desconcentração administrativa de poderes não chegava aos governadores subalternos, os quais eram considerados pelos governadores gerais como burocratas e não como “micro-decisores”. Assim, a transferência de competências não tinha descido toda a estrutura administrativa colonial, tendo havido na década de 1920 excessivos poderes conferidos aos governadores-gerais e aos Altos Comissários, mas não aos governadores subalternos das províncias e dos distritos.
Assim, embora subscrevesse a divisão administrativa das colónias com base neste argumento discordava da fragmentação administrativa de Angola em duas grandes zonas, cujos centros seriam Luanda e Mossamedes, porque as diferenças geográficas e económicas entre estas regiões não seriam suficientes para as justificar. Contudo, quanto a Moçambique concordava com a sua divisão em duas grandes áreas administrativas, a norte na região de Tete e a sul na região de Lourenço Marques, por existirem razões de diferenciação económica e geográfica que as fundamentavam. Esta tese foi proclamada no III Congresso Colonial Nacional com o apoio de eminentes coloniais.
Nuno Sotto Mayor Ferrão
Publicado originalmente em Crónicas do Professor Ferrão
[1] “Moçambique”, in Portugal, nº 34, 26 de Dezembro de 1925, p. 1.
[2] Ibidem, p. 1. [ Continuação da citação do texto: “(...) Além disso, o desenvolvimento e o grau de civilização dos distritos ao norte do Zambeze não é também de molde a permitir uma emancipação em forma, nem essa emancipação, a dar-se abreviaria quer-nos parecer o aperfeiçoamento intelectual dos povos, desligados como ficavam do centro principal da civilização. (...)”.
[3] José Gonçalo da Costa Santa-Rita, “Grande divisão administrativa das colónias”, in 3º Congresso Colonial Nacional, Lisboa, Edição da Sociedade de Geografia de Lisboa, 1934, 6 p.
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Projeto "Fado Mimado" e o Fado como Património Imaterial da Humanidade

O fado foi classificado pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade num trabalho de fôlego, de qualidade e de rigor liderado pelo musicólogo Rui Vieira Nery. Depois de uma evolução histórica notável do fado que culminou na consagração internacional de Amália Rodrigues na segunda metade do século XX, o certo é que este género musical tem novos interpretes que projetam o fado a nível internacional. A ligação lusófona de Portugal aos quatro cantos do mundo aparece simbolizada por esta ambivalente canção de melancolia que encerra um fundo de esperança.
O Projeto “Fado Mimado” dirigido ao público infantil e juvenil pretende de uma forma lúdica despertar as novas gerações para este género musical. Este Projeto reúne um CD intitulado “Fado Sonhado” cantado por Maria Azóia e dois livros de Gilda Nunes Barata intitulados “Um Xaile com Notas a Chorar”[1] e “Saudade, Meu Amor?”[2] com ilustrações respetivamente de Danuta Wojciechowska e de Ana Bossa. Os dois livros são bilingues (português e inglês), desde os seus respetivos títulos, denunciando a dimensão internacional que o fado tem assumido. Este Projeto foi lançado no Museu do Fado.
Somos introduzidos no livro “Um xaile com Notas a Chorar” com um belo “epitáfio” de Sophia de Mello Breyner Andresen e uma breve definição do Fado de Rui Vieira Nery. Diz-nos o musicólogo que este género musical transporta uma pulsação rítmica ambivalente que vai da lamentação ao entusiasmo mais enérgico. Esta narrativa, cheia de imaginação, de tom poético parece inspirar-se numa entrevista que Amália Rodrigues concedeu ao jornalista Armando Baptista Bastos em 1999. O “personagem”, desta alegoria, é um xaile, inseparável companheiro da imortal fadista portuguesa, que vai meditando ao longo da história sobre o valor do fado. Tal como Gilda Nunes Barata, especialista na corrente saudosista de Teixeira de Pascoaes, o xaile interroga-se sobre a saudade como um sentimento muito português. Nas suas meditações, o xaile vai-nos lembrando que para os portugueses como um povo de marinheiros, que criaram um dos impérios europeus no mundo, e como um povo de emigrantes este sentimento da saudade está sempre muito presente.
Neste livro de homenagem ao fado há uma simbiose perfeita entre o texto e as feéricas ilustrações de Danuta Wojciechowska. No decorrer das suas aprendizagens, o nosso protagonista, o xaile, dialoga com as forças da Natureza e com os músicos, seus fiéis companheiros, que nas suas almas procuram dar voz ao encontro com outras paragens e com outros povos. Deste modo, este pequeno conto está entretecido de uma linguagem fortemente poética que perscruta os sentidos metafísicos do fado como uma existência cultural singular que bem merece esta classificação da Unesco de Património Imaterial da Humanidade. Nesta fábula, o xaile canta Lisboa como um local de partidas e de chegadas que faz transbordar nos seus habitantes um sonho comovido que desperta sentimentos contrários.
Este xaile, na sua meditação, fala-nos do fado como uma canção, que enaltece as canseiras e as emoções contraditórias que os portugueses vão passando, que lhe permite um grande amadurecimento na convivência com a mítica fadista de alma universal. É, assim, que ele acaba por adormecer sonhando com o mar que sempre permitiu a Lisboa abrir-se a aventuras inesgotáveis de contactos com outros povos. Gilda Nunes Barata, a autora da fábula, tem uma cuidada formação eclética que perpassa na sua escrita que se reparte entre a literatura infantojuvenil e a literatura poética. Danuta Wojciechowska tem já um invejável currículo internacional como criadora de ilustrações com Prémios já recebidos. É, sem dúvida, um livro de que recomendo uma leitura atenta.
No outro livro de Gilda Nunes Barata intitulado “Saudade, meu Amor?” dirigido, sobretudo, ao público mais infantil as ilustrações, bem conseguidas, pertencem a Ana Bossa. O enredo desta pequena história é bem expressivo das emoções que pairam no fado (a saudade e a procura da felicidade). Assim, nesta história de uma pequena gaivota que perde a fralda aparece um sentimento de saudade e de busca que é ultrapassado com a alegria de a encontrar a servir de cobertor a um corvo que sorri no seio da sua tristeza. Fica, pois, como uma sugestão para uma eventual prenda de Natal este conjunto de dois livros e um CD que dão pelo nome de “Fado Mimado.
Nuno Sotto Mayor Ferrão
Publicado com documentos complementares em Crónicas do Professor Ferrão
[1] Gilda Nunes Barata, “Um Xaile com Notas a Chorar”, Lisboa, Edição Quebra-Nozes, 2011.
[2] Idem, “Saudade, meu Amor ?”, Lisboa, Edição Quebra-Nozes, 2011.
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
O pensamento de Adriano Moreira de 1961 a 1963 como Ministro

Adriano José Alves Moreira[1] foi nomeado como independente por António de Oliveira Salazar em 1961 para a pasta do Ultramar. Teve neste cargo uma intensa actividade legislativa em que se destacaram o Código do Trabalho Rural, a extinção do Estatuto do Indigenato e o desenvolvimento das estruturas de ensino nos territórios ultramarinos que visitou com uma grande aclamação popular[2]. Em fins de 1962 defendendo a autonomia progressiva das colónias entra em divergência profunda com o Presidente do Conselho de Ministros que não aceita a continuação desta sua estratégia reformista da política ultramarina por achar que isso o colocava em causa, tendo Adriano Moreira, numa destas reuniões desavindas, dito a António de Oliveira Salazar: “Acaba de mudar de ministro”[3].
No contexto da guerra colonial, que se desencadeou em Angola em 1961, Adriano Moreira foi obrigado pela força das circunstâncias históricas e das suas convicções em prol da Defesa dos Direitos Humanos a revogar o Estatuto do Indigenato e a atribuir a cidadania a todos os habitantes do império ultramarino português. Se tivermos em conta que em 1953 com a Carta Orgânica das Províncias Ultramarinas se previa a transitoriedade do Estatuto do Indigenato, que o sistema luso-tropicalista apontava para o sentido da igualdade na troca das relações culturais entre colonizador português e o colonizado e que o agudizar das tensões entre colonos e autóctones impunha uma medida que contribuisse para a pacificação do espírito insubmisso dos naturais dos territórios africanos compreende-se esta decisão política.
Em suma, esta medida pode equiparar-se à resolução do Imperador Caracala no Império Romano em 212 d.C. ao decidir integrar no estatuto de cidadania todos os habitantes livres do império para apaziguar revoltas em algumas províncias mais contestatárias da autoridade romana. Assim, uma vez que já estava consagrado o princípio da tendência do igual tratamento a dar a colonizadores e a colonizados como ideologia do luso-tropicalismo e a lei geral a explicitava impunha-se perante a premência dos acontecimentos de sublevação nas províncias Africanas e da sua sensibilidade em relação aos Direitos Humanos a tomada desta decisão.
Nuno Sotto Mayor Ferrão
Publicado com documentos complementares em Crónicas do Professor Ferrão
[1] O retrato apresentado, do Professor Doutor Adriano Moreira, figura na galeria dos antigos Presidentes da Sociedade de Geografia de Lisboa.
[2] César Oliveira, “Adriano José Alves Moreira”, in Dicionário de História do Estado Novo,vol. II, Lisboa, Editora Bertrand, 1996, pp. 628-629.
[3] Entrevista ao Expresso, 22.01.08.